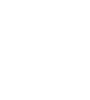No firmamento literário do século XX, Marguerite Duras figura como uma constelação talvez inatingível, ao mesmo tempo central e periférica. Nascida na então Indochina em 1914, no seio de uma família francesa instalada em Saigon, a autora de O amante insufla em toda a sua produção artística a marca desse exílio originário: a totalidade de sua obra será constituída por um sentimento de estranheza que sobrevoa sua gramática, sua a-narratividade e suas linhas temáticas.
E é que Duras nos compartilha sua obsessão, talvez como Clarice Lispector, de abordar o irredutível da experiência humana, ali onde a linguagem não alcança. Um balbucio carregado de sabedoria sobre o que se esconde nas entranhas do desejo, do amor, do luto, da infância, da morte, da viagem.
Marguerite nos compartilhou sua visão de mundo não apenas em seus romances, mas também em roteiros de cinema, peças de teatro, contos e ensaios que escapam à formulação de certezas, preferindo o retrato de uma emocionalidade não inteiramente explicável, mas profunda e instintiva.
Em A chuva de verão, romance publicado em 1990 após um longo silêncio da autora, essa poética atinge uma de suas formas mais puras e também desconcertantes. “Os livros o pai os encontrava nos trens suburbanos. E também os encontrava ao lado do lixo, como oferecidos ao acaso depois de falecimentos ou mudanças.” Através dessas linhas entramos nesta obra atípica, estranha, dissonante e que retrata os núcleos de uma infância — momento do eu em bruto, ainda não condicionado pelas instituições — enquadrada em um grupo familiar inerentemente estrangeiro.
“Duras nos compartilha sua obsessão, talvez como Clarice Lispector, de abordar […] ali onde a linguagem não alcança. Um balbucio carregado de sabedoria sobre o que se esconde nas entranhas do desejo, do amor, do luto, da infância, da morte, da viagem.“
Estado latente, fora da história e do tempo, a infância em Duras interroga o mundo antes de nomeá-lo. “Ernesto não sabia ler nem sua idade, apenas seu nome, devia ter entre 12 e 20 anos”: à medida que avançamos na leitura, a noção de identidade tal como a conhecemos torna-se um terreno movediço. Duras problematiza a instituição escolar e a vaidade intelectual, eclipsadas pela experiência pessoal e por um prazer pelo conhecimento que tudo arrasta e nos deixa afinados, embriagados de jogo.
O instintivo, o autodidata e o pulsional movem os fios deste romance curto de personagens errantes, em um devir selvagem que tem o gosto pela vida à flor da pele. Com o correr das páginas, encontramos a emocionalidade durasiana em sua máxima expressão: as palavras naufragam diante do inominável dos afetos retratados. Os personagens tentam compreender-se entre si falando, mas nem eles nem nós — leitores — conseguimos sempre compreender o que acontece.
O destruir e recomeçar do zero com a linguagem como utopia fazem desta narrativa algo que resiste a significados conclusivos. “No centro dos livros de Duras há uma oquidade, um buraco negro onde estariam o sentido e o indizível nunca revelado”, apontou Fabienne Bradu em sua análise da obra de Marguerite.
“Duras problematiza a instituição escolar e a vaidade intelectual, eclipsadas pela experiência pessoal e por um prazer pelo conhecimento que tudo arrasta e nos deixa afinados, embriagados de jogo.”
A maestria de Duras consiste em rondar essa oquidade, aproximar-se perigosamente dessa matéria resistente à linguagem e — ainda que não a penetre por completo — deixar essa oquidade visível e vibrante como uma ausência imprescindível para que surja o cerco da escrita.
O francês Frédérique Lebelley apontou que a escrita de Marguerite poderia ser a câmara escura dos negativos do álbum familiar. Do nosso aqui e agora, com a reflexão em torno das infâncias tão presente na agenda, este livro nos convida a repensar os parâmetros que regem nossas maneiras de abordar a infância.
Já abatida pela doença que seis anos depois a afastaria do nosso plano, Duras escreve este romance que paradoxalmente — ou justamente por isso? — exala o que os franceses chamam de joie de vivre. Assim, ler A chuva de verão reanima nos leitores aquela alegria inominável de estar vivo, esse devir liberto do mecanismo do calendário que todos experimentamos durante nossos primeiros anos de vida: “Somos crianças de uma maneira geral, percebe?”, assinala o eterno-menino Ernesto a seu entrevistador.
O francês Gaston Bachelard falou de como a lembrança pura carece realmente de data, tendo em seu lugar uma estação associada. Para o filósofo, a estação é a marca fundamental das recordações. Todos os verões de nossa infância — apesar de que o verão se viva como uma oferenda sempre nova, sempre fresca — dariam assim testemunho do “eterno verão”: essa estação total, imóvel e perfeita, encarnada na infância.
Camila Besuschio
Camila Besuschio nasceu em Buenos Aires nos anos 90 e hoje divide-se entre Espanha e Inglaterra. É crítica literária, mas não critica, antes lê para se sentir mais unida ao mundo.
- Camila Besuschio#molongui-disabled-link
- Camila Besuschio#molongui-disabled-link
- Camila Besuschio#molongui-disabled-link